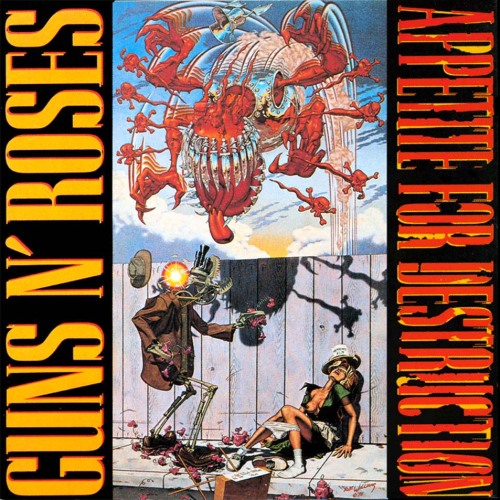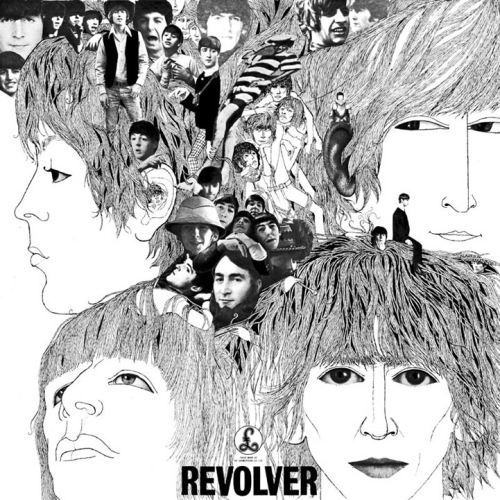texto de Murilo Basso (@murilo_basso)
A adolescência é um período engraçado. Nessa época você está longe de saber ao certo o que realmente quer. Palpite: alguns querem ser livres de toda aquela angustia que, na maioria dos casos, só pode ser superada de olhos fechados e com fones nos ouvidos. E foi dessa forma que o Teenage Fanclub tornou aqueles dias menos sombrios.
Em 1997, quando Songs from Northern Britain foi lançado, o mundo da música dividia suas atenções entre POP, do U2 e algum novo single das Spice Girls. Outros observavam os Gallaghers cavarem sua própria cova após Be Here Now enquanto Damon Albarn sorria cinicamente. Eu tinha oito anos e, claro, não me recordo da primeira vez que ouvi Teenage Fanclub, alguns anos mais tarde. Mas ao menos tenho viva em minha memória a primeira vez que vivi Songs from Northern Britain.
Os rapazes de Glasgow eram a antítese do que havia na música, afinal não tinham relação com a imagem de rock star que rolava na época. Eles provaram que um pouco de sensibilidade não faria mal ao rock dos anos 90 e trouxeram esperanças para pessoas como eu. Songs from Northern Britain está longe de ser seu melhor álbum. Apesar de bem recebido no Reino Unido, o disco passou praticamente despercebido pelo mercado americano. Grand Prix, opinião quase unânime e sensata, é sua obra-prima. Bandwagonesque com seu peso maior e até mesmo a “sujeira” de Thirteen trazem, musicalmente falando, pontos mais altos. Há ainda os que preferem a aura doce de Howdy!. Ok, todos estarão um pouco certos, mas é fato que em nem um deles há a inspiração sincera e apaixonada que transborda em Songs from Northern Britain. Nele o Teenage Fanclub exalta seu passado lançando mão de melodias doces sem qualquer sinal de ironia ou cinismo.
“Ain’t that Enough” surge com sua esperança ingênua (“Time can only make demands / Fill it up with grains of sand / Bring your loving over”), o idealismo romântico aparece em “Can’t feel my soul” (“What I’ve found out / Is what I’ve found / I can’t live without / Having you around / You what I need and / I needed you”) e a resignação bate cartão em “It’s a bad World” (“I’ve got a reason / To know your name / I’ve got a reason / To stay the same”). Há ainda “Winter”, que irá embalar muitos apaixonados por tempo indeterminado e, claro, “Your Love Is The Place Where I Come From”, provavelmente a canção mais linda da história das canções lindas. Porque ninguém retrata o amor como ela.
Graças a “Your Love Is The Place When I Come From” percebi que canções só se tornam realmente importantes quando são associadas a sentimentos, sensações. Então tudo parece mais sincero e, lá no fundo, isso é o que realmente importa. Nesse dia Norman Blake, Gerard Love e Raymond McGinley me ajudaram a dizer “eu te amo” pela primeira vez. Desde então, sempre que a ouço, não me recordo do momento em si, mas sim daqueles 15 minutos anteriores que consolidaram o Teenage Fanclub como meu refúgio musical contra o mundo, se tornando aquele bom amigo que nos piores momentos vem nos visitar e fazer sorrir.
Songs from Northern Britain é um tratado sentimental dos mais sinceros. É romance, capaz de retratar um período de nossas vidas que hoje talvez já não faça mais sentido. É uma tentativa frustrada de suicídio, afinal não é todo dia que alguém é capaz de entrar em nosso coração e transformar o resultado dessa visita em música. E se mesmo assim você insiste que é capaz de guardar segredos de si mesmo corra e ouça Songs from Northern Britain. Sozinho e de olhos fechados. Boa parte de seus medos e dúvidas estarão ali, perdidos em meio ao som nostálgico do teclado, a simplicidade do violão e os vocais propositalmente ingênuos. Deixe que ele invada sua alma e traga a tona lembranças esquecidas, sonhos incertos e inseguranças aparentemente tolas.
Sete anos atrás Norman Blake, Gerard Love e Raymond McGinley me ajudaram a dizer “eu te amo”. Hoje, na mesma situação, e mais uma vez sem saber o que fazer, espero que eles possam me ajudar a encontrar o melhor caminho. E, se nada der certo, ao menos torço para que o filme da minha vida continue e a trilha sonora mantenha a mesma assinatura. Cartas de amor para gurias que insistem não se deixar comover por cartas de amor. Sinceridade também conta, não?
Murilo Basso é estudante de jornalismo. Escreve para o Scream & Yell, Urbanaque e para a revista Rolling Stone